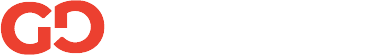Nunca
analisei nem avaliei as pessoas pela cor da sua pele. Para ser franco, não fora esse detalhe, não saberia distinguir entre
uma e outra.
Na hora de me aproximar de alguém, seja branco,
seja negro
ou amarelo, o que conta é a simpatia, perceber o seu caráter, observar a
sua índole e concluir se é do bem ou do mal. Talvez seja por isso que a
palavra racismo sempre me soou tão forte , provocando sentimento de
repulsa e repugnância quando observo qualquer
tipo de discriminação contra um ser humano baseado em princípios tão
vis e mesquinhos.
Sempre
me impressionei muito com filmes com essa temática, sejam aqueles que
retratam a política racial americana, que permanece violenta , radical e
sanguinária e
na qual
ainda permanecem em atividade grupos extremistas como a Ku
Klux
Klan; sejam as películas que revelam os horrores da Alemanha nazista na
Segunda Guerra, quando 6 milhões de judeus foram humilhados, torturados
e dizimados
por causa da sua origem e da religião
que praticavam.
Existem
outros casos não menos repulsivos e intoleráveis como o conflito que
matou centenas de milhares de negros na África do Sul, condenados à
fome e à miséria por uma minoria branca que comandava o País; ou o
pérfido período de escravidão no Brasil que, durante
três séculos, produziu efeitos danosos e irreversíveis à raça negra,
ainda hoje sofrendo mazelas
dessa insanidade que prevaleceu
por tanto
tempo no País, embrenhada
na cultura brasileira com marcas definitivas em sua história.
Pessoalmente,
conheci muito cedo o significado da tal
discriminação, através
de um episódio que marcou a minha infância na Cesário Alvim, no Rio de
Janeiro, onde fui uma menino livre de preconceitos, que
se
relacionava com todas as crianças como eu, indistintamente, fossem brancas, pretas, pobres ou ricas. Embora, teoricamente,
pertencesse a uma “elite privilegiada”, pela posição importante que meu
pai, Abelardo Jurema, desfrutava na vida pública do País, sempre me
senti uma criança igual às outras,
que gostava de jogar “pelada” na rua e de andar de carrinho de rolimã
produzido
no quintal de casa com madeira de construção.
Certa
vez, eu e meu irmão convidamos o nosso amigo Pelé, um menino magro, preto retinto, que morava no
morro no final da ladeira da
minha rua, para ir conosco
tomar banho de piscina no Iate
Clube, agremiação
aristocrática que podíamos
frequentar graças a um convite especial oferecido a meu
pai, à
época era deputado federal
e ministro da Justiça.
No meio da brincadeira, fui advertido por um homem uniformizado que me
informava
ser a piscina liberada “para sócios
e não para empregados”. Fiquei perplexo com a proibição e decidi ir
embora, revoltado e sem entender a razão daquela injustiça.
É
dessa sensação de desconforto e indignação que me lembro agora
face ao
episódio aviltante e revoltante que custou a vida de George Floyd, o
americano torturado e executado, aos nossos olhos, pela cor de sua
pele, vítima de uma
cena que nos deixou a todos revoltados e ruborizados de vergonha ao testemunhar a violência exercida através
do ódio alimentado por parte de quem, lamentavelmente, não
enxerga
que, no planeta Terra só há espaço para um tipo de raça, a raça
humana. E um único princípio que deve nortear a nossa conduta cristã:
“Amai uns aos outros como a ti mesmo”,
A cor da pele
13 Jun 2020- 309