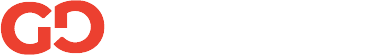A rua Cesário Alvim, no bairro de Botafogo, no Rio de Janeiro, nos anos 50 e 60, era uma ruazinha tranqüila e pacata, quase uma vila do interior, onde todos se conheciam, se freqüentavam, se amavam e se respeitavam. Com pouco mais de 200 metros de comprimento, terminava numa ladeira onde havia o Hospital dos Radialistas, construído e administrado pelo Governo, numa área que fazia parte do meu jardim de infância, uma extensão do quintal da minha casa. Composta apenas de casas – havia apenas um edifício na esquina com a Humaitá, de 10 andares – não era difícil identificar seus moradores. Havia o “seu” Portela, nosso vizinho do lado esquerdo, um senhor de bengala que sofria muito com a algazarra de nossas brincadeiras infantis. No lado direito, a misteriosa Dona Tatiana, uma mulher loura, poderosa e sedutora que a maledicência alheia não perdoava. Havia também o dr. Raul e dona Laís, pais de Altide e Izinho – Alfredo Taunay, ex-presidente do Jockey Clube do Rio – amigos de meu irmão Oswaldo; O Dr. Hélio e Dona Rosa, com os filhos Cláudio e Carlinhos, ele renomado oftalmologista; o “Seu José” da padaria Santo Antônio, com os filhos Zezinho, Carlinhos e Paulinho, imigrantes portugueses; o “seu Espanhol” e “Dona Espanhola” que, como o próprio apelido indicava, eram os espanhóis donos da mercearia do bairro. E tantos outros personagens que compunham aquela Grande Família. Mas, de todos esses vizinhos, o que mais marcou a minha infância foi a família de Dona Ione, esposa de um Almirante da Marinha, que morava quase em frente a nossa residência, e que tinha prole numerosa, com os filhos Guguto, Chico, Raquel, Izinha, Marília e Cacau, que eram como irmãos para os sete filhos da família Jurema. No dia seguinte à Revolução de Março de 1964, quando saíamos para nos abrigar em local mais seguro – eu e meus irmãos Rosa, João e Vanita, levados por minha mãe, dona Vaninha, e por um amigo da família, o engenheiro paraibano Roberval Guimarães, o Robinho, - fomos surpreendidos por um comitê de recepção nada amistoso: capitaneados por D. Ione, a mãe dos nossos amigos, um grupo de oito a dez pessoas se postara do outro lado da rua a desferir ruidosa vaia naquelas crianças que não sabiam o que se passava na realidade do País. O choque da cena permaneceu por muitos anos e refletiu na minha amizade com o Chico, o filho da dona Ione, que era como se meu irmão fosse. Mantínhamos a nossa amizade, infantil e desinteressada, e não tocávamos no assunto. Mas era visível o constrangimento, de parte a parte. Certa vez ele me convidou para ir à sua casa. - Sua mãe pode não gostar, adverti. - Ela está muito doente (tinha câncer). Acho que ela gostaria de ver você. Fui até lá e ela me chamou até o sofá, onde descansava. Segurando minha mão, com lágrimas nos olhos, me pediu perdão. Sinceras desculpas que eu, mesmo um menino de 12 anos, compreendi e a perdoei. Fiquei em silêncio a olhar aquela mulher abatida que tentava se redimir de um gesto impensado que deveria estar lhe atormentando o espírito. E fui embora triste com o sofrimento e o destino cruel que havia atingido a mãe do meu melhor amigo.
- Capítulo do livro Cesário Alvim 27 – Histórias do Filho de Um Exilado, que está sendo publicado, em segunda edição, pela Editora Universitária da UFPB.